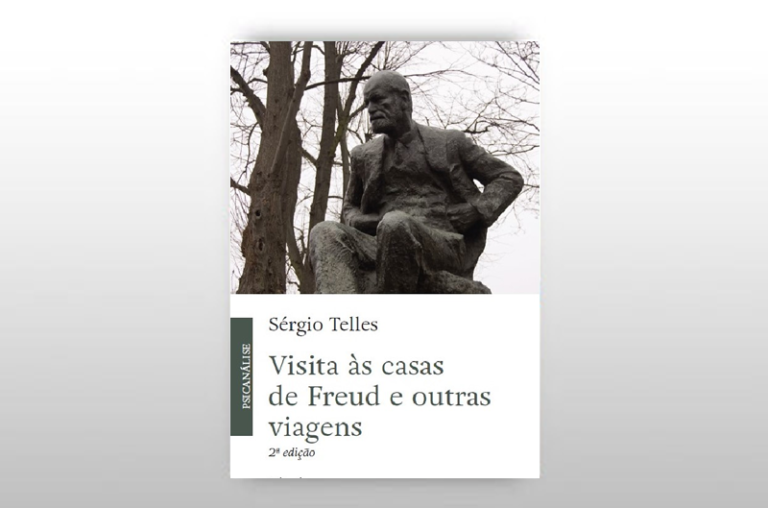VISITA ÀS CASAS DE FREUD E OUTRAS VIAGENS, SÉRGIO TELLES
VISITA… (EXCERTO)
A PSICOSE EM “O CÉU QUE NOS PROTEGE” (THE SHELTERING SKY) DE PAUL BOWLES
Sérgio Telles
Ao filmar The Sheltering Sky, cujo lançamento deu-se em 1990, Bernardo Bertolucci colocou Paul Bowles no centro das atenções gerais, tornando acessível ao grande público este recluso escritor que, no dizer de Gore Vidal, juntamente com sua mulher Jane, era figura central no mundo transatlântico das artes, famoso entre famosos, atraindo visitas e recebendo tributos de muitos artistas do mundo anglo-saxão nos anos 40 e 50.
Paul Bowles nasceu nos Estados Unidos em 1911 e aos 18 anos publicava poesia. Aos 20, estudando música com Aaron Copland, viaja com ele para Paris, quando conhece Gertrude Stein, que o desencoraja quanto ao exercício da literatura, sugerindo-lhe dedicar-se exclusivamente à música. Indica aos dois amigos a cidade de Tanger como lugar ideal para férias de verão. Bowles acata essas sugestões – vai pela primeira vez ao Marrocos, descobrindo então o lugar que seria seu futuro refúgio, e ficou sem escrever durante muitos anos.
Morando em Nova York nos anos 30 e 40, viaja muito pela Europa e América Latina, ganhando a vida como compositor erudito. Colabora em peças e filmes de Orson Welles, Elia Kazan, William Styron, Tennessee Williams. Em 1943 escreve uma ópera The Wind Remains, regida por Leonard Bernstein, coreografada e dançada por Merce Cunningham, encenada no Museum of Modern Art.
Em 1937 conhece Jane Auer, com quem estabelece um casamento muito peculiar, pontuado por separações, ligações extra-conjugais, casas separadas, tudo certamente devido à bissexualidade declarada dos dois.
Bowles fixa residência no Marrocos em 1947. Volta a escrever ao acompanhar as agruras de Jane na execução de Two Serious Ladies, o curiosíssimo livro que mereceu rasgados elogios de Truman Capote, editado no Brasil pela LPM com o título “Duas Damas bem Comportadas”.
Nos anos 50, Bowles é procurado pela chamada geração beat – William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Tal contato fez com que muitas vezes sua obra fosse equivocadamente agrupada com a daqueles escritores.
Se há um ponto de contato entre eles, seria a recusa dos ideais convencionais de progresso tecnológico e do sonho americano, substituídos pela procura incessante, pela estrada como metáfora da ânsia e do vazio da vida, da convicção de que mais vale a viagem do que sua destinação, sendo justamente essa a sina dos seres humanos.
Na opinião de muitos, como Gore Vidal e Jay McInnernay, o estilo claro, polido, clássico e distanciado de Bowles o aproxima mais de Edgar A. Poe, pelo terror frio que desenvolve em seus escritos. Não o terror metafísico ou sobrenatural, mas o humano, advindo da desagregação psíquica, da loucura e da morte.
Jay McInnernay, o jovem autor de Bright Lights, Big City – saga yuppie nova-iorquina filmada no final dos anos 80, encontrável nas vídeo-locadoras – diz: “Bowles demonstra simpatia pela postura típica dos surrealistas de chocar a burguesia em sua complacência, escavando o material cru do inconsciente e expondo-o à luz do dia. A avaliação dos trabalhos de Bowles feita em tons apocalípticos por Norman Mailer, também o coloca nessa corrente de terrorismo literário. Mas, como um de seus personagens, Bowles alega que para ele o escrever é meramente uma forma de terapia. ‘Não gosto das coisas sobre as quais escrevo’ – ele responde quando indagado por que tanto de sua obra lida com o lado escuro da natureza humana. ‘É como um exorcismo. Não significa que aprove o que ocorre nas páginas de meus livros. Deus me livre’”. (in Vanity Fair, may 1985).
Nos anos 60, Bowles passa a se interessar pela literatura oral, o folclore dos contadores de história do Marrocos, transcrevendo-os e traduzindo-os.
The Sheltering Sky ( “O céu que nos protege” – Assírio e Alvim, Lisboa, 1989, Ebradil Importadora) é seu primeiro e mais famoso livro. Foi escrito em nove meses e recusado pela Editora Doubleday, que não o considerou “um romance”.
Neste livro encontramos uma esquisita galeria de personagens. Americanos, franceses, ingleses que perambulam pelo Marrocos, compartilhando a idéia de que a civilização ocidental faliu. Fogem da Europa, dos destroços da guerra, mas não têm propriamente uma destinação. Parecem não vir de lugar algum – as referências ao passado são escassas, fragmentárias – e não vão para canto nenhum. Não há meta a chegar, o que resta é o viajar, o transitar, a mudança, o não se deixar prender a lugares ou pessoas.
O triângulo central – Port e sua mulher Kit (que, muitos dizem, representam quase diretamente Bowles e Jane) e o amigo Tunner, mantêm um relacionamento frouxo, flutuante, móvel, instável, cheio de subterfúgios e disfarces.
Seu perambular os aproxima do deserto, distanciando-os cada vez mais da civilização européia. Suas inusitadas características começam a se intensificar. Melhor dizer as do casal Port e Kit, desde que Tunner faz mais o contraponto “saudável”, modelo de uma impossível, desejada e desprezada adequação à realidade.
Eles se movem num clima niilista, dentro de um impasse, num vácuo do qual procuram desesperadamente sair através da provocação deliberada de situações perigosas, num desejo mórbido de assumir riscos gratuitos, num descuido de qualquer precaução com a própria segurança.
Há uma impossibilidade intransponível na realização amorosa do casal. Port sub-repticiamente empurra a mulher para Tunner. Mas mesmo aí não há uma relação satisfatória. É tudo muito angustiado, infeliz, sem prazer, cheio de culpas.
Quando Port descobre que poderia amar a mulher, sente que precisa afastar Tunner, mas não consegue agir de forma firme e clara. Arma uma série de manobras complicadas, cheias de mentiras e dissimulações, nas quais seu objetivo não é explicitado sequer para sua mulher. Sua defesa básica é, mais uma vez, a fuga.
Nesta escapada chegam a uma longínqua aldeia. Ali Port finalmente pensa sobre sua busca de identidade, sua procura da felicidade, reconhece seu amor por Kit, planeja uma nova vida. Mas é tarde demais. Morre, vitimado pela febre tifóide, antes de poder dizer qualquer coisa a Kit. Sua morte talvez fora desejada inconscientemente, pois logo vamos saber que ele se recusara a cumprir com os procedimentos necessários de vacinação.
A morte de Port desencadeia em Kit uma reação extremada. Ela rompe com toda e qualquer amarra. Deixa o corpo do marido e foge para o deserto, onde encontra uma caravana de beduínos, com a qual desaparece.
A ruptura radical de Kit, o afundar num mundo totalmente desconhecido, no qual será sempre um corpo estranho, incapaz de inserção e acomodação, impossibilitado de comunicação, sem poder comungar dos mesmos valores preferências culturais – tudo isso constitui pontos altos no livro.
Um recurso estilístico simples configura essa situação para o leitor: várias, não muitas, frases em árabe, usadas no momento adequado e propositadamente deixadas sem tradução, marcam com grande eficácia a diferença, a distância, o desconhecimento.
A estranha beleza do livro advém desse arrebatamento da loucura, desse ir além de qualquer limite, do ousar tudo, do entregar-se totalmente sem reservas ou garantias. Kit enfrenta a vida agora nua e sem qualquer moldura ou barreira protetora formada pelo hábito, os costumes, a língua, a cultura.
Usando os três registros de Lacan, é como se Kit perdesse, abandonasse o Imaginário e o Simbólico e vivesse diretamente o Real, o viver bruto dos sentidos, do corpo, do sexo. Claro que, em assim fazendo, sai fora do mundo das palavras e perde seu estatuto identitário, desmorona psiquicamente, psicotiza.
É evidente a problemática sexual latente no livro – a impotência, a repressão. Kit, sem consumar sexualmente seu casamento com Port, antes de fazer sexo com Tunner no trem, perde-se no vagão de quarta classe, dos árabes, e vê ali, com horror, um homem mutilado: no meio do rosto, um buraco negro onde devia ter existido um nariz. Não há imagem mais clara da castração. Ao fugir e entregar-se aos beduínos, é levada para a Medina de uma cidade desconhecida. O homem que a leva a disfarça com roupas masculinas. Seriam evidências de seus conflitos referentes à identidade sexual, que a teriam impedido de exerce-la satisfatoriamente com Port.
Mas, ao estar no outro mundo, na outra cultura, acontece o retorno do reprimido, do negado. Há uma explosão do sexo, agora não mais circunscrito a qualquer barreira. A vida agora resume-se à sexualidade louca e ilimitada, num cativeiro voluntário, assumido e desejado, onde não há espaço para mais nada. É um abandono de toda e qualquer contenção, entre elas a da própria identidade. É uma viagem da qual não há retorno possível.
Lembrando o que Bowles disse a McInnernay, pode até ser que ele pessoalmente não pense assim, mas seu livro parece descrer em qualquer salvação para o homem, que é visto encurralado pelo nada e tentando uma fuga impossível.
Psicanaliticamente, o encontro de Kit com os beduínos e seu inteiro abandono e submissão aos desejos deles, atitudes decorrentes da abdicação de qualquer traço identitário ilustram bem o movimento regressivo da psicose, caracterizado pela fusão com o outro, esse outro que apesar de radicalmente diferente do sujeito não mais é assim reconhecido, em função da perda de limites do ego.
Uma investigação sumária de ordem lingüística sobre os nomes próprios escolhidos por Bowles para seus personagens confirma e amplia o que falamos acima.
Port, o personagem mais portentoso e complexo, tem um nome com ricas implicações. No Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, tem ele quinze (15) entradas, de onde selecionei alguns significados: porto, refúgio, destino, meta, ponto de origem ou destinação de uma viagem, portal, vestíbulo, portão, entrada, conduta, procedimento, maneira ou estilo de vida, dignidade, condição, portátil, porfólio, retrato, mala de viagem, levar, carregar, aportar, portar.
Vê-se que dominam as referências à viagem, à conduta, à identidade e – bela imagem – o vazio que o portal representa enquanto abertura / fechamento, limite entre o dentro e o fora, elementos importantes na constituição do personagem.
O nome Kit (apelido de Katherine) tem cinco (5) entradas. Os mais significativos: coleção de equipamentos e suprimentos caracteristicamente arrumados em caixas ou malas, equipamentos de roupas, conjunto comercialmente montado, kit-bag: mochila, apetrechos, filhote ou animalzinho de pele.
Retornam as referências à viagem, acrescentando-se um aspecto coisificado, de mala, bagagem, equipamento a ser levado por soldados ou marinheiros (Dicionário Inglês-Português – Hygino Aliandro – Pocket Books – NY), um pequeno animal, todas pertinentes ao personagem, filhote indefeso ao perder o porto protetor que o amparava, perdendo sua identidade, coisificando-se, carregada passivamente pelos homens.
O nome Tunner, conseqüente com a pouca importância do personagem, tem uma única entrada: trabalhador cervejeiro encarregado dos tonéis. Desencadeador do drama, a única função de Tunner é, de fato, fermentar – como nos tonéis de cerveja – os potenciais latentes de Port e Kit.
Artigos
BETTY B. FUKS
VISITA ÀS CASAS DE FREUD E OUTRAS VIAGENS, DE SÉRGIO TELLES
“Telles, em Visitas às casas de Freud e outras viagens, leva o leitor a perceber de que modo a psicanálise avança por onde os artistas, novelistas e romancistas a precedem.”
Betty B. Fuks
Próximo ao final da aventura que o levou a inventar a psicanálise, Freud, referindo-se aos versos de Goethe, reconheceu que sua disciplina sempre esteve submetida à autoridade do escritor e do poeta. Selava, desta forma, o que havia apreendido no início de sua prática: psicanálise e criação artística dizem respeito à Outra cena. Das artes, privilegia a que melhor franqueia o acesso ao inconsciente: a literatura. Uma escolha legitima. Basta lembrar que da tragédia de Sófocles, retirou o tom do que hoje se conhece como o lugar nuclear do mito edipiano na estrutura psíquica do sujeito. A análise freudiana sobre a estruturação do sujeito encontrou em Édipo Rei uma figura conceitual impar, uma metáfora privilegiada, um exemplo conclusivo do que a experiência clínica testemunha. O poeta de Colono, talvez tenha sido o maior dos aliados de Freud: cantava em prosa e verso, muitos séculos antes da invenção do inconsciente, os mais profundos desejos que habitam a alma humana – o incesto e o parricídio – matéria prima da investigação psicanalítica.
Foi em base à sua convicção de que os artistas, poetas e escritores “costumam saber de uma multidão de coisas entre o céu e a terra, cuja existência nossa sabedoria acadêmica nem alcança sonhar”, que Freud estabeleceu a conexão indelével entre a psicanálise e a arte, apesar do fato de ter desejado inserir sua disciplina no campo da ciência. Neste percurso, opondo-se às categorias científicas e às concepções fisiologistas sobre o sonho, funda a “Ciência dos sonhos”, toma partido da verdade dos artistas e da superstição popular do que o sonho é uma escritura que se dá a ler. Esta união da arte com a ciência que desde sua fundação a psicanálise exercita em alto grau, ganhou destaque na trajetória de Lacan: sabe-se que ele se deixou mover pelo sentimento de estranheza de que era acometido, toda a vez que percebia o fato de o artista provar conhecer o que o psicanalista ensina. À exceção dos escritos de Freud são, sobretudo, os grandes monumentos literários que comenta em seus Seminários: Sófocles, Shakespeare, Sade, Joyce, Duras, etc.
Sérgio Telles se dedica, com rigor obstinado e inflexível, a este ofício de saber colher do enredo literário ou de uma obra de arte elementos bastantes significativos, com os quais ressalta determinadas teorias fundamentais da ciência médica da alma. Com um olhar singular sobre este domínio, muitas vezes empobrecido por muitos analistas que ao comentar uma determinada obra fazem uma espécie de psicobiografia do autor, ou inventam de “psicanalisa-la” através de uma grade teórica qualquer, Telles, em Visitas às casas de Freud e outras viagens, leva o leitor a perceber de que modo a psicanálise avança por onde os artistas, novelistas e romancistas a precedem.
Dono de invejável cultura, acuidade de raciocínio e sensibilidade crítica, revela uma capacidade inquietante de viajar, como um nômade, pela escritura da psicanálise e pela produção artística. Um errante: entre e sai do estranho país freudiano, trazendo sempre uma perspectiva de fora de criadores consagrados, como Van Gogh, Tchecov, Maupassant, Machado de Assis, Stephan Tunick, Munch, Santa Tereza d’Ávila, Guimarães Rosa, Paul e Jane Bowels. Mas não pára por aí: a consciência de que todo o analista é também um crítico da cultura que testemunha faz com que agregue a série de ensaios que compõem o livro, alguns textos sobre o mal-estar na civilização.
Para compreender de que modo foi possível a Telles produzir uma série de ensaios tão criativos e fecundos, sugiro começar a leitura por Visitas às casas de Freud. Uma casa sempre nos remete para um dos pontos cardeais do horizonte em que se coloca a vida interior, matéria prima da ciência da alma. Bergassen 19- Maresfield Garden 20. Telles funde as moradas freudianas sob um terreno no qual, nos lugares escondidos, se desce para onde os sonhos, os atos falhos, os sintomas, a transferência e a transmissão da psicanálise desembocam. Desde este lugar prende-se à sua própria experiência, o que torna possível instrumentar de modo subjetivo a teoria, a enunciar um dizer no lugar do dito, enfim, a reinventar a psicanálise, como tantas vezes recomendou Lacan, diante de analistas que se preocupavam com a transmissão do legado freudiano.
De Viena à Londres e fiel ao desejo de retorno ao Brasil, Sérgio nos convida a viajar dentro e fora da psicanálise. Se sua escrita nos convoca, conforme as palavras de Chaim Katz no belo prefácio que abre o livro, a viajar cuidando do “ser humano” dividido entre pulsões e desejos, que convergem e divergem constantemente”, é porque ela cria condições de transmissão da psicanálise, de acordo com as leis de buscar no outro a verdade, sempre nômade. Agrega-se a este efeito o fato de que além de psicanalista, nosso autor é ficcionista consagrado e premiado. Enfim, em tempos de penúria – quando alguns fazem avançar a idéia de regulamentar a profissão de psicanalista e outros, com grande estardalhaço na mídia, insistem em que o lugar da psicanálise na contemporaneidade não é mais aquele construído por Freud – um livro que expõe a luta de um escritor-analista pela transmissão da psicanálise, merece saudação.
MARIA LUCIA VIOLANTE
HÁ UMA “CONCEPÇÃO DE MUNDO PSICANALÍTICA FREUDIANA”?
“Suponho que o fictício analista-visitante do Museu seja o próprio autor Sérgio Telles, tal é a fidedignidade com que o descreve, permitindo que o leitor compartilhe de seus sentimentos.”
Esta resenha do livro de Sérgio Telles, Visita às casas de Freud e outras viagens, parte do ensaio “Visita às casas de Freud – uma ficção freudiana”, estendendo-se para “visitas” à obra de Freud procedidas pelo autor, ao interpretar psicanaliticamente expressões culturais no campo das artes e do esporte, mantendo em suspenso a indagação constante do título da resenha até chegar à concepção de Freud acerca de uma Weltanschauung psicanalítica.
Palavras-chave: Weltanschauung, complexo de Édipo/castração, inconsciente, pulsões de vida e de morte, narcisismo, sublimação.
Como resenha não é um resumo do livro de um autor, sigo um percurso próprio, de acordo com as repercussões que a leitura do interessante livro de Sérgio Telles provocou em mim, e não de acordo com a seqüência dos ensaios nele contidos.
Assim é que inicio esta resenha por onde comecei a ler o livro: o ensaio “Visita às casas de Freud – uma ficção freudiana”, acompanhando imaginariamente os passos do personagem (ou autor?) psicanalista em Viena. E eis que vivencio uma primeira identificação com o autor do livro, quando ele atribui a Freud a “estatura de gênio da humanidade” (p. 150) e de “gênio benfeitor da humanidade” (p. 156). Concordo com ele que Viena é o berço da descoberta do Inconsciente e que “está irremediavelmente ligada ao nome de Freud” (p. 147).
Cidade imponente, Viena abriga imensos e luxuosos palácios e jardins, charmosos cafés, museus riquíssimos como o de Klimt, ao lado do modesto Museu Sigmund Freud, na bem-dita Berggasse 19, onde Freud viveu de 1891 a 1938, lá criando este novo campo do saber que é a Psicanálise, no decorrer desses quarenta e sete anos.
O final da vida de Freud, em Londres, em 23 de setembro de 1939, aproxima-se do início da Segunda Guerra Mundial, que só termina em 1945, tendo deixado Viena “em escombros, humilhada sob a poeira dos bombardeios e o tacão das potências aliadas, pagando o crime de sua cumplicidade com Hitler”, conforme o autor a descreve, baseando-se no filme de Carol Reed, O terceiro homem (p. 148).
O edifício onde Freud viveu com sua família – que não possui mais do que três andares – foi reconstruído e Anna Freud cedeu vários pertences do pai para viabilizar a organização do Museu Sigmund Freud, inaugurado graças ao empenho da Sociedade Sigmund Freud, em 1971, por ocasião do 27o. Congresso Internacional de Psicanálise, em Viena.
Neste referido ensaio, suponho que o fictício analista-visitante do Museu seja o próprio autor Sérgio Telles, tal é a fidedignidade com que o descreve, permitindo que o leitor compartilhe de seus sentimentos: o de que a visita à casa de Freud era “uma modestíssima homenagem que prestava ao mestre, era uma demonstração de respeito e admiração”. E mais, que se percebeu “comovido com a simplicidade do apartamento de Freud”, depois de visitar “tantos prédios e palácios esplendorosos de Viena” (p. 151).
Abro um breve parêntese para lembrar que tal discrepância sobrevive: entre o que foi a morada de Freud e o que são as mansões de alguns psicanalistas brasileiros.
Em sua “auto-análise”, o personagem-analista-autor (?) recorre à noção freudiana de estranhamento diante do familiar, em O ‘estranho’ (1919), para descrever o sentimento experimentado por “estar no ambiente físico onde Freud vivera” (p. 151). Mas, quando se vê frente ao busto do Mestre, na Universidade de Viena, essa idenficação imaginária-desidentificação desemboca na conclusão de que “Freud era um herói nacional” (p. 153).
Na visita à casa de Freud em Londres, na Maresfield Gardens 20, onde ele viveu de 6 de junho de 1938 a 23 de setembro de 1939, o personagem-analista-autor (?) já não transmite a mesma emoção, salvo um “sentimento depressivo” e certa identificação com o Mestre, ao se ver já na “idade madura”, o que dava-lhe uma “dolorosa percepção do tempo, com sua finitude e fugacidade” (p. 154).
Da “Visita às casas de Freud”, acompanho Sérgio Telles em suas “visitas” à obra de Freud, a partir do ensaio “De novo e sempre, o mal-estar na cultura”, no qual o autor considera existir uma “Weltanschauung psicanalítica freudiana”, ou seja, uma “concepção de mundo” vista sob a ótica do Mestre. Argumenta que isso se encontra expresso não só na 35a. conferência das Novas conferências introdutórias sobre psicanálise (1932/3), intitulada “A questão da Weltanschauung”, mas também em Totem e tabu (1913), Psicologia de grupo e a análise do ego (1921), O futuro de uma ilusão (1927), O mal-estar na civilização (1930) e Por que a guerra? (1932). Ainda, reconhece o autor que, nestes textos, as idéias de Freud “são decorrência da lógica interna de suas teorizações e trazem teses fecundas, que continuam muito atuais” (p. 122).
O autor entende que, para Freud, “As mesmas leis que regem o indivíduo, regem o social” (p. 122). Por achar isso muito forte, penso ser digno de reflexão, sobretudo se relevarmos a leitura que ele faz de Um estudo autobiográfico (1924/5), no qual Freud teria revelado que “a partir de 1923, tinha abandonado a psicanálise propriamente dita enquanto centro de suas atenções, dedicando o melhor de sua capacidade analítica e reflexiva aos processos de construção e destruição na cultura” (p. 122).
Abro um breve parêntese, com o intuito de dialogar com o autor e com o leitor. De acordo com minha leitura do referido Estudo de Freud, que é publicado dez anos após A história do movimento psicanalítico (1914), ele revela que a partir do complexo de Édipo, “grande número de sugestões me ocorreu” – referindo-se ao que denominou “aplicações da psicanálise”. Somente em 1935, Freud acrescenta um “Pós-escrito” ao citado Estudo, no qual diz que seu interesse “voltou-se para os problemas culturais”, muito embora, como ele próprio relata, “já tentara, em ‘Totem e tabu’, fazer uso dos achados recém-descobertos da análise a fim de investigar as origens da religião e da moralidade”.
Fecho o parêntese para prosseguir com mais “mal-estar na cultura” – proximamente, no ensaio “A verdade e o discurso de políticos”, e de modo aparentemente longínquo, em “As fotos da tortura no Iraque”.
No momento dramático em que vivemos, penso que o primeiro destes ensaios dispensa comentários, sobretudo porque o autor recorre ao reconhecido e atualíssimo livro de Guy Debord, A sociedade do espetáculo. Viva a cultura do narcisismo e a manipulação da opinião pública, seja por meio de omissões e/ou de distorções da verdade informativa!
Em “As fotos da tortura no Iraque” – que nos repugnam -, Sérgio Telles se propõe a “pensar sobre essas fotos: “Não apenas me revoltar com a violência da situação – ou mais secretamente – gozar com as cenas sado-masoquistas ali representadas” (p. 114). Após recorrer ao Gênesis, o autor retoma as teses freudianas acerca das conseqüências psíquicas da distinção entre os sexos, das fantasias sexuais infantis, do complexo de Édipo, para mostrar que todo esse complicado percurso que deveria conduzir o sujeito “a um abandono do narcisismo onipotente e à aceitação do outro e do diferente” pode não ser bem sucedido para muitos, que se “aferram aos fantasmas imaginários do falicismo […]” (p. 117). As referidas fotos nos mostram a humilhação e a submissão do semelhante por quem está munido de força física e material.
E, por livre associação, vou ao ensaio “Canibalismo”, antes que ao “Corpos nus”.
Sérgio Telles recorre ao caso verídico do “canibal de Rotenburg”, revelando-nos a pujança da teoria freudiana da libido e das tragédias psicopatológicas e sociais que podem decorrer de fixações e regressões, sobretudo pré-genitais.
Como contraponto destes dois últimos ensaios, onde impera a pulsão de morte, vemos todo um movimento sublimatório e, portanto, civilizatório, em “Corpos nus”. Frente às fotos de Spencer Tunick, o autor chama-nos a atenção para a calma desses corpos, “como se dormissem. Estão em paz. Estão nus, despidos de roupas, das convicções, credos, ideologias. São tocantes em sua vulnerabilidade física. Estão reduzidos a sua essência humana básica” (p. 59).
Afora esse, Sérgio Telles dedica outros ensaios à arte – a qual não é um sintoma e nem um antídoto deste, dado de uma vez por todas.
Em “O nome de Vincent Van Gogh – Algumas especulações sobre o desejo da mãe e o suicídio”, o autor relata que o famoso pintor holandês, após três tentativas de suicídio, matou-se aos trinta e sete anos, “pobre e desconhecido” (p. 13/4).
Recorre ao livro de David Sweetman, Van Gogh: his life and his art, que, a partir de dados da realidade histórica vivida pelo artista, interpreta que Van Gogh teria sido posto por sua mãe no lugar de seu irmão que nasceu morto, o que lhe teria causado “um profundo conflito de sua identidade”, em decorrência “do fato de ocupar ele o lugar de um outro, de um morto, de ser ele o representante do desejo materno de negar a morte de um outro filho. Isso significa que, nessas circunstâncias, a mãe jamais reconhece e legitima esse filho em sua singularidade” (p. 19, grifos do autor).
Sérgio Telles relata, em “A compulsão à repetição em Tchecov”, que “Tchecov tem um pequeno conto de duas páginas e meia, intitulado Do diário de um auxiliar de guarda-livros, no qual ele “dá mostras da extraordinária compreensão dos mecanismos psíquicos inconscientes que regem o destino humano – aqueles desejos centrados no complexo de Édipo” (p. 19/20).
Em “O Horlá – considerações sobre a constituição do sujeito”, o autor toma como objeto de reflexão psicanalítica o conto de Guy de Maupassant (1850-1893), O Horlá, o qual “fala da experiência de um homem que se vê perseguido e possuído por um ser desconhecido e invisível, um Outro que termina por aliená-lo completamente, fazendo-o perder a própria identidade” (p. 23). E, aqui, Sérgio Telles volta a tecer considerações sobre a questão tratada por Freud, em O ‘estranho’ (1919).
O autor dedica dois ensaios a Machado de Assis: “Pare no D. – Algumas idéias sobre Esaú e Jacó e Memorial de Aires” e “No enterro de Escobar – sobre a importância da culpa em Dom Casmurro, de Machado de Assis”.
No primeiro, consegue com maestria o que, de início, diz pretender, que é “evidenciar a grande proximidade que os une, o que os coloca como romances gêmeos” – a saber, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Segundo o autor, o primeiro romance “exala um odor de coisa abortada, de algo que não amadureceu inteiramente, que cresceu apenas para murchar, sem que as necessárias floração e frutificação tenham-se dado. Há uma incompletude, uma insatisfação, algo que fica suspenso e não cai como devia” (p. 43). Recorrendo à teoria freudiana do complexo de Édipo e a Lacan, o autor põe em relevo a “importância do desejo materno e paterno no futuro dos filhos” (p. 48), parecendo encontrar aqui o ponto de semelhança entre os dois romances, nos quais Machado exibe “um distanciamento depressivo com o qual olha a vida já vivida […]” (p. 54).
No ensaio sobre Dom Casmurro, Sérgio Telles coloca em relevo a sedutora relação entre Bentinho (esposo de Capitu e pai de Ezequiel) e Sancha (esposa do amigo Escobar), na noite que antecede a morte deste último. No enterro, ao ver Capitu chorar, invadido pelo ciúme, Bentinho conjectura um romance entre ela e o amigo morto, supondo que este seria o verdadeiro pai de seu filho Ezequiel. O autor interpreta o sentimento inconsciente de culpa de Bentinho projetado na esposa, filho e amigo morto, e a conseqüente necessidade de punição, ao se afastar dela e do filho, ficando absolutamente só.
O autor interpreta mais dois livros: um, de Paul Bowles, transformado em filme por Bertolucci, em 1990, e outro, de sua esposa Jane Bowles. No ensaio “A psicose em O céu que nos protege (The sheltering sky), de Paul Bowles”, mais do que diagnosticar a psicose que acomete a personagem, Sérgio Telles dá voz ao autor Bowles. Compositor e escritor americano, Bowles justifica como se tratando de um “exorcismo” o fato de sua obra lidar com “o lado escuro da natureza humana” (p. 91). Penso que pode ser um modo de Bowles lidar com seu próprio lado “escuro”, posto que levou o casamento até a morte da mulher, ambos mantendo paralelamente relações homossexuais e cíclicas aproximações e separações.
Em “Uma leitura de Duas damas bem comportadas, de Jane Bowles”, Sérgio Telles defende que “Psicanaliticamente, pode-se com facilidade rastrear o substrato pessoal e biográfico da autora nas suas personagens […]”, advertindo: “Se isso reforça a teoria que explica a arte como uma sublimação da vida, um produto não ex-nihilo da mente do artista e sim uma recriação de situações vitais, existenciais, é extremamente importante não fazer uma redução que equipare a produção de uma obra de arte à emergência de um sintoma” (p. 102).
Em “Munch no porta-jóias freudiano”, Sérgio Telles interpreta a gravura A Esfinge, do pintor e gravurista norueguês Edward Munch (1863-1944), como se fosse uma “ilustração” do texto freudiano de 1913, O tema dos três escrínios, no qual, como bem nos lembra o autor, esse tema significa “as três inevitáveis relações que um homem tem com uma mulher – a mulher que o trouxe à luz, a mulher que é sua companheira e a mulher que o destrói, ou – que elas são as três formas assumidas pela figura da mãe no decorrer da vida de um homem – a própria mãe, a amada que é escolhida segundo o modelo daquela, e, por fim, a Terra Mãe, que mais uma vez o recebe.” (p. 66).
Em “O que está em jogo no esporte?”, Sérgio Telles entrelaça as pulsões de vida e de morte com os mecanismos de repressão e sublimação, argumentando, segundo Freud, que, como “A Cultura e a Civilização se fundam na regulamentação e legislação dessas pulsões”, para ele, “os esportes têm a importante função de canalizar a agressividade, proporcionando-lhe uma expressão sublimada, regulamentada e controlada” (p. 69/70).
Em “O desejo em Santa Teresa d’Ávila e em Freud”, Sérgio Telles interpreta à luz da psicanálise, a afirmação da Santa, para quem “Há mais lágrimas derramadas pelas preces atendidas do que pelas que foram feitas em vão”. Para o autor, “A idéia central […] indica que a realização de desejos (“ter as preces atendidas”) tem um efeito paradoxal, provoca lágrimas e não a esperada felicidade” (p. 73/74).
Sabemos que, para Freud, o que é realização de desejo para uma instância psíquica, pode não o ser para outra, tudo dependendo da relação conflituosa entre elas. No entanto, ao apelar para Laplanche, que atribui a Freud uma suposta “teoria da sedução” recalcada, o autor assume que “Freud passa a ter um interesse menor pela realidade externa […]” (p. 75). Ora, isso parece contradizer o que afirmara no segundo ensaio comentado nesta resenha, ao afirmar que, a partir de 1923, Freud teria “abandonado a psicanálise propriamente dita”, em prol dos “processos de construção e destruição da cultura” (p. 122). A meu ver, é uma constante, do começo ao fim da obra de Freud, a relevância que atribui às relações entre realidade interna e externa – e isto, desde seus conceitos de vivência de satisfação e de desejo, em 1895 e 1900. Aliás, é na Carta 105 a Fliess, de 19 de fevereiro de 1899, que Freud afirma: “realidade-realização de desejos. É desse par de contrários que brota nossa vida mental”.
Em “Espelho, espelhos”, Sérgio Telles faz uma analogia entre o objeto espelho, que usamos para nos ver, e a psicanálise criada por Freud para nos “ver e compreender”, graças à descoberta do Inconsciente, acrescentando que “Freud descobre […] que o espelho no qual o homem vai se ver é sua própria fala, a linguagem” (p. 83).
Em “O dom de falar línguas – Sobre a glossolalia”, Sérgio Telles recorre à teoria do estádio do espelho de Lacan e à “teoria da sedução generalizada” devida a Laplanche, concluindo que a língua que interessa ao psicanalista e ao poeta é a “língua materna, essa língua primitiva eivada de desejos e organizadora das fantasias” (p. 176). Lançando mão do que Pontalis chama de melancolia da linguagem, ou seja, a linguagem como substituta do objeto amado perdido, a mãe, conclui: “Nosso narcisismo nos faz lamentar ter que falar, gostaríamos que nossos pensamentos e desejos fossem adivinhados e realizados, sem que tivéssemos de lutar para falá-los e realizá-los” (p. 184; negrito do autor).
Para finalizar, como, a meu ver, a obra de Freud não expressa uma “concepção de mundo vista por sua ótica” (p. 122), deixo aos leitores de Sérgio Telles o deleite de responderem a questão colocada no título desta resenha, lembrando-lhes que Freud, na referida 35a. conferência das Novas conferências… (1932/3), conclui que nem a psicanálise precisa de uma Weltanschauung (traduzida por Sérgio Telles como “concepção de mundo”) e nem é capaz de criá-la por si mesma. A psicanálise, diz Freud, “tem um direito especial de falar de uma Weltanschauung científica […], de vez que não pode ser acusada de ter negligenciado aquilo que é mental no quadro do universo. Sua contribuição à ciência consiste justamente em ter estendido a pesquisa à área mental”.
CHAIM S. KATZ
SOBRE “VISITA ÀS CASAS DE FREUD E OUTRAS VIAGENS” DE SÉRGIO TELLES
“Bem que Freud se recusava a distinguir civilização e cultura, o que levou outros sábios a se perguntarem por quê. Lendo este livro de Sérgio Telles, temos algumas indicações para compreendê-lo.”
Chaim S. Katz
Psicanálise, psicanálise, onde se inseparam teoria e prática (o que quer que sejam!), duradouro e intempestivo, permanência e irrupção, prazer e racionalidade, medida e desmesura. De modos bem especiais, claro. Onde a cultura pode ser criada ou “descoberta” a cada momento.
Bem que Freud se recusava a distinguir civilização e cultura, o que levou outros sábios a se perguntarem por quê. Cultura entendida como o conjunto de produções e costumes advindo da luta e do encontro / desencontro com a natureza; civilização como um domínio especial de um grupo amplo, que homogeneíza um desses conjuntos de cultura e tende a universalizá-la. Lendo este livro de Sérgio Telles, temos algumas indicações para compreendê-lo.
No escrito que sustenta o título central, acompanha-se uma viagem cômica, no seu mais antigo sentido grego, próximo do regime trágico “das coisas”. Quando Telles visita a casa vienense de Freud, estamos diante de uma estada hierática, uma tentativa ética de se aproximar mais ainda do vienense. Mas ela não se dá, pois é uma estada cindida. De saída, perturbada pelo alarido de uma professora e seus alunos, colegiais, em plena aula no espaço livre; Telles é levado a comprar produtos freudianos pertencentes à civilização ocidental no seu mais amplo sentido (lembranças, postais, chaveiros, livros), que constituem não apenas a ou uma memória representacional, como são seus afetos marcados; constatar que Freud era um “ser humano”, que vivera num apartamento de prédio modesto; que o psicanalista “originário” sofrera das vicissitudes da política e decaíra com a idade. E que, por isto e outros, Telles não poderia, não pode nem jamais deverá se identificar inteiramente com seu Mestre. Pois não nos identificamos – ou é muito mais difícil fazê-lo – com a morte dos outros em nós, com os ruídos e cisões que nos multiplicam e espantam, com as doenças e misérias corporais dos outros que geralmente apenas nos representamos. Como fazer com as decepções que nossos mitos pessoais nos causam quando nos aproximamos deles em excesso!?
O psicanalista que o visita neste apartamento, está com ele positivamente identificado, mas só até certo ponto, pois qualquer identificação tem seus vazios, já o sabemos. Ainda mais, de saída, os psicanalistas lidamos com os desligamentos permanentes, os desnudamentos insistentes, com a solidão do discurso, pois a voz nunca se satisfaz em ser apenas linguagem, pois busca encaixar palavras para sempre insatisfatórias. A voz reclama um período de não-representabilidade, uma infância que permanece para sempre. Também por isto, ensinou-nos a Psicanálise que nosso saber está votado também para insoluções, apontamentos parciais. Somos conectivos, isso e mais isto, e mais aquilo e aquiloutro…
Terminada a procura de completude, um pouco decepcionante, vai, juntamente com a mulher, a um antiquário, de onde saem rapidamente. Isso que é identificação com o vienense, grande colecionador de antiguidades, redescobridor das Tróias que nos assolam! O que é identificação, se Sérgio Telles não encontra, no brinquedo freudiano de guardar e colecionar velharias, o prazer que o Mestre teria? Sua procura mais verdadeira vai na direção de matar a fome. Onde? No novo! No Macdonald’s, produto e modelo exemplar dessa mesma sociedade de produção massiva e homogeneização cultural, de temporalidades velozes que tantas críticas e repulsas mereceu de Freud.
Daí se segue a outra parte da comédia, desta vez, inglesa. Ao visitar a residência londrina de Freud, em Maresfield Garden, o autor não nos informa o número da casa. Pois 20, número da casa, é mais e maior do que 19, número do edifício da Berggasse. Inconscientemente, nesta associação, 20 remete à doença e à morte. E aí se manifesta um saber bem especial, já que as reflexões de Sérgio Telles sobre sua própria maturidade e os limites que a idade lhe oferece o levam a um sentimento disperso. Que logo se transforma em ódio e inveja, manifestados expressamente em Unbehaglichkeit, conforme Freud apelidou tal sentimento.
Sérgio Telles, freudiano, nos oferece um bom exemplo disto. O autor planejara se sentir bem, ser reconhecido como discípulo e amigo, junto aos monumentos de seu herói. Pois, na atualidade, Viena escreve ou gostaria de parecer escrever uma nova história para seu filho ilustre e ilustrado, reconhecendo Freud, na medida em que coloca sua efígie numa nota de 5 Schillings, que o homenageia como grande sábio. Mas, esta é a outra face, bem suave e agradável, de terríveis eventos, cuja sociedade de Psicanálise (Wiener Psychoanalytischen Vereinigung) não aceitou seus antigos membros judeus de volta, depois da Segunda Guerra (conforme nos ensinou Helmut Dahmer). Receberia Freud?
Aqui nosso autor, Telles freudiano, poderia se ver às voltas com os ensinamentos de Walter Benjamin:
“Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie”.
Cada nota com a fotografia de Freud esconde uma de suas irmãs mortas em campos de concentração e a nata dos psicanalistas austríacos e alemães que tiveram que escapar de seus países por causa do regime nazista e da Anschluss e que jamais foram reincorporados psicanaliticamente.
Ao visitar o monumento freudiano em Londres, sua casa-museu e mausoléu, Telles sabe complexificar no regime dos ensinamentos psicanalíticos, conjuntando-disjuntando. Inveja do desregramento da psicanalista gaúcha que fotografa livremente o espaço freudiano, estranhamento pelos dois jovens psicanalistas mineiros. Hostilidade pela voz dos psicanalistas brasileiros, que falavam e se moviam em tom alto. Sabemos que a intensidade excessiva da voz que nos incomoda aponta uma estranheza pelos outros que falam uma língua distinta da nossa. A voz, mesmo quando não a compreendamos significacionalmente, faz sentido de estranho, de estranheza, Unheimlichkeit.
Até então, Sérgio Telles nos indica o que temos que aprender com Freud. Pois nosso autor viajou em busca de um monumento idealizado, algo que só existe – quando se dá – no silêncio de uma biblioteca e na certeza de um raciocínio (na clínica, aprendemos sua inexistência). Mas que a experiência mais imediata – as pulsões, dizia Freud – recusa na sua multiplicidade. Quando não aceitou a idéia de um primitivo “sentimento oceânico” (de Romain Rolland e também de Férenczi), Freud disse que o não-agradável, o que se chamou em português de “mal-estar” (e em iídiche de nishguit), aparecia pelas três grandes fontes do sofrimento e do desagradável. Duas delas já tinham se anunciado com a emergência do desconforto causado pelos outros e a insuficiência das instituições em garantir e regular suas relações. Agora se instalava a debilidade do corpo do psicanalista, mostrando como a natureza afirmava suas regras próprias. Uma diarréia, com regras e normas específicas, independente de seu “possuidor”, apressa o passo do nosso pensador viajante, que se vê ainda mais e menos freudiano. Sua afoiteza, contudo, de pouco lhe vale, pois achar e poder usar o vaso sanitário ainda deixou um problema: o mau cheiro da sua evacuação, sentido e reclamado por sua mulher. Mas, isto que escapa da linguagem oral-articulada, essa outra característica odorífera das fezes, a chamada “merda”, isso nos levará a, juntamente com os ensinamentos do livro, questionar os limites da razão e do Pensamento. Pois isto também é Da-sein, já o sabemos. Mas é o que diferencia Psicanálise de Filosofia.
Então, o autor estará num caminho outro. Os vários escritos nos ensinam muito. Mas preferi me deter neste, uma viagem diferente. Aprendemos com o Romantismo alemão a distinção entre a viagem ao ou para o exterior e a viagem interna (aussere Reise / innere Reise). No texto que rapidamente percorremos, a viagem escorregadia converge com a viagem geográfica, e seu resultado escapa da maionese, da geleia geral, dos deslizamentos infindáveis do viajar “por dentro” e das descrições intermináveis e localizadas das viagens de deslocamentos físicos. Mas a visão, absolutamente necessária, não nos informa sobre o Ser, ao menos nunca o bastante. Voltamos a Kant, que nos ensinou na Crítica (Kritik der reinen Vernunft) que a razão sem intuição é vazia e a intuição sem razão é cega.
Tal escrito nos oferece outra possibilidade de pensar / exercer a temporalidade psicanalítica. Que aqui não se faz mais pela circularidade temporal à moda da Grécia antiga, nem pela garantia do Espírito Absoluto, onde os momentos se remetem ao seu Grande Fim e Finalidade (como em Hegel). Cada paisagem pode se remeter a uma teoria do trabalho das paisagens, e que não mais se garantem pelo tempo a posteriori. Se lermos este escrito de mais perto, veremos que ele se quer destruidor da presença, produtor permanente de restos (Lacan), fazedor de sentido com detritos. Afirmador de razão às voltas com as descontinuidades permanentes do psiquismo. Saber fundador de uma temporalidade específica, que não se erige sobre continuidades ou processos teleológicos.
Assim, lemos Sérgio Telles como bom discípulo do Freud “iluminista sombrio” (como o chamou Yirmiyahu Yovel), produzindo suas paixões alegres. Na Psicanálise, bons encontros se dão quando se fazem também e sempre nos regimes de agressividade e crueldade, pois só assim se expandem.
Portanto, toda civilização – e reaprendemos como a nossa civilização procura nos totalizar, neste movimento dito “globalização”, fazer de qualquer cultura um homogêneo do mundializar – se vê rompida pelas culturas que a reinvadem e reinventam de modo permanente.
Viajemos com estes escritos, cuidando do ser humano dividido entre pulsões e desejo, que convergem e divergem constantemente.