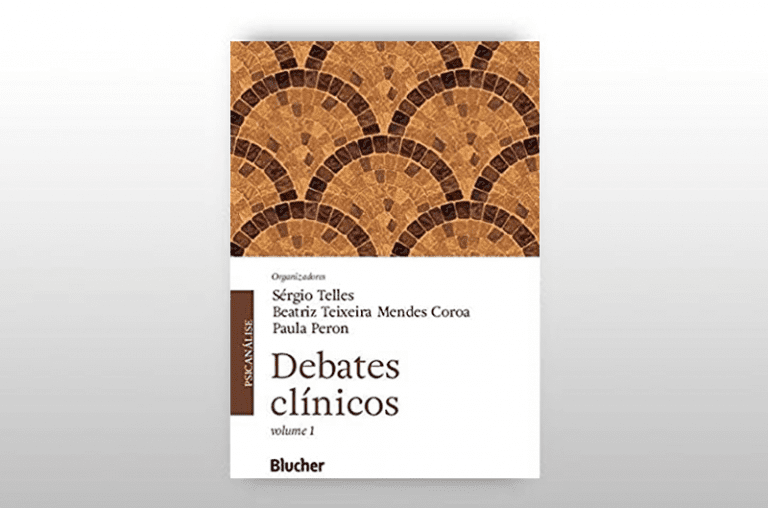Para que serve escrever, publicar e ler o que nós, analistas, chamamos de “material clínico”? A resposta que encontramos na Apresentação deste livro é “para possibilitar uma reflexão psicanalítica”. A amplitude da afirmação não a impede de ter contornos razoavelmente precisos: reflexão, ou seja, atividade racional visando à compreensão dos fenômenos expostos, e psicanalítica, ou seja, servindo-se dos conceitos e hipóteses construídos e validados no campo de saber inaugurado por Freud.
É isso que, em última análise, justifica a apresentação de fragmentos clínicos: são exemplos, que para o analista iniciante têm uma função análoga à da residência hospitalar para os médicos recém-formados, e para os mais veteranos permitem o diálogo com seus pares, ou mesmo a reconsideração de posições sobre tal ou qual aspecto do nosso difícil mas apaixonante ofício.
Que estes incentivem nossos colegas e estudantes a prosseguir na construção do seu próprio caminho como analistas!
Renato Mezan
Organizadores: Sérgio Telles, Beatriz Teixeira Mendes Coroa e Paula Peron
Editora: Blucher, 2019, 230 p.
Resenhado por: Dora Tognolli
Nem sempre fui psicoterapeuta. Como outros neuropatologistas, fui formado na prática dos diagnósticos locais e do eletrodiagnóstico, e a mim mesmo ainda impressiona singularmente que as histórias clínicas que escrevo possam ser lidas como novelas e, por assim dizer, careçam do cunho austero da cientificidade.
SIGMUND FREUD
Em meados de outubro de 2019, tive o prazer de comparecer ao lançamento do livro Debates clínicos no Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo. Guardo na memória fragmentos de uma noite animada, as pessoas chegando aos poucos do trabalho, e muitas surpresas: amigos de convivência, amigos distantes no tempo, de tribos diferentes, colegas, professores, alunos, grande aglomeração de psicanalistas.
Uma experiência que lembra os congressos, nos quais encontros predominam e salas individuais contêm modalidades distintas do mesmo ofício, tomadas em vértices inúmeros. Um clima festivo, curioso, temperado com o desejo de saber e conhecer.
O conteúdo do livro espelha o momento do lançamento: uma proposta de conversa, troca e escuta; um trabalho sofisticado e de qualidade, que atravessou a elaboração e pôde então ser publicado.
Meses depois, volto ao livro, objeto desta resenha, num clima inédito, no sentido mais pleno: isolamento, pandemia, muitas angústias. A ideia é transmitir, numa resenha, a potência de trabalho que identifiquei no projeto. Reconheço que meu ânimo está mudado: mais sinistro, acanhado, tentando encontrar uma brecha para iniciar a escrita e ser fiel ao espírito do livro – testemunhar o ofício desses seres estranhos e “impossíveis”, ditos psicanalistas. Apenas uma releitura do livro permitiria que o tônus não se perdesse e eu conseguisse atingir o objetivo, numa espécie de resistência à paralisia e à melancolia em sua face de desânimo que têm nos visitado. Parece que estamos atravessando um “entre parênteses”…
O livro Debates clínicos nos põe, quase 130 anos depois, diante da mesma forma literária abordada na epígrafe desta resenha, extraída dos Estudos sobre a histeria: a narrativa clínica. De certo modo, relembra a dificuldade inerente à escrita clínica, acompanhada de um imenso desejo de escrever, publicar, compartilhar com os colegas nosso trabalho.
Na apresentação do livro, de autoria de um dos organizadores, Sérgio Telles, é possível percorrer o difícil caminho da peculiar escrita clínica, que traz grandes desafios para todos nós. O primeiro desafio consiste em “reproduzir a complexidade polifônica de uma sessão analítica” (p. 7). Essa constatação remete à ideia de trabalho da escrita, que, no caso de uma narrativa clínica, é atravessada pela transferência, ou seja, guarda marcas de uma experiência potente, da qual o analista é testemunha e narrador. Ao escrever e publicar, talvez exista um desejo recôndito, por parte do analista, de recuperar a potência da fala que contém trabalho psíquico.
A questão ética também comparece, de forma complexa, e vem nos encorajar a publicar e a nos tornarmos responsáveis por essa autoria, diante do paciente escolhido, de nosso grupo de referência e do próprio saber psicanalítico, que pede transmissão. Diferentemente de um padre, testemunhamos confissões de uma ordem bastante estranha, que guardam o registro inconsciente. Mas essa dimensão não nos isenta de certo risco e temor de estarmos traindo a confiança de quem nos escolheu para acompanhar a viagem rumo a seu mundo interno.
A introdução do tema não apresenta receitas simples em face de perguntas recorrentes – como publicar, como proteger o paciente, como narrar a transferência, o manejo e o uso dos conceitos metapsicológicos -, mas deixa no ar muitas questões, que cada analista deve trilhar até descobrir seu estilo, ancorado em preceitos éticos.
Citações de textos clássicos de Freud, transcritas na abertura do livro, em que se fala de pacientes famosos, como Dora e o Homem dos Ratos, nos põem dentro dessa linhagem universal e de diversos dilemas e estranhamentos que a prática da psicanálise encerra. Freud, revelando seu espírito científico e aguçado, que até hoje encanta, lembra que nossa matéria-prima não necessariamente reduz-se a segredos, mas apresenta situações triviais, perdidas no tempo, que cada paciente traz como fragmento e nos ajudam a entrar por veredas que recompõem certas histórias perdidas, de dor e fracasso, que causam sofrimento e empobrecimento psíquico. Parece que os humanos não mudaram tanto assim: o homem de 1905/1909 fala conosco, homens de 2020, e nos toca profundamente. Por meio dessas citações, muito bem escolhidas pelos organizadores, nos damos conta do universal que cada relato trivial pode veicular.
Na introdução do livro Sobre a loucura pessoal, Green diz que, diante da pergunta “Por que você escreve?”, feita por um analisando, ele responde, sem titubear: “Como testemunho”. Em seguida, acrescenta outra resposta: “Escrevo porque não sei fazer outra coisa” (1988, p. 9). Podemos nos fazer a mesma pergunta, usando também a forma negativa: “Por que muitos analistas não escrevem?”. A ideia aqui não é responder à questão, mas pôr na mesa o que está em jogo no processo de publicar, de narrar seu ofício, de propor debates clínicos a partir da práxis. Há algo do desejo infantil, em sua face de exibicionismo, de aceitação do grupo, de inserção num coletivo, de estabelecimento de laços sociais, e até de encontro, em outra cena, de uma fratria, que nos acolhe diante do caráter solitário da profissão que escolhemos.
Algumas citações presentes na obra merecem destaque. Referem-se a autores psicanalistas contemporâneos, que se debruçaram sobre as dificuldades e as questões que a escrita clínica traz. Os textos de Gabbard, Tuckett, Britton, bem como a interessante experiência do International Journal of Psychoanalysis, em sua sessão “The analyst at work”, parecem ter servido de inspiração, em boa hora, para o projeto do livro.
Para os debates tratados no livro, convidavam-se três analistas, de diversas instituições e escolas, com a seguinte dinâmica: um deles relataria um caso por escrito, e os outros dois comentariam o relato. Procurou-se manter o anonimato dos três colegas, com o intuito de minimizar afinidades eletivas, filiações, barreiras ideológicas etc. e favorecer o trabalho do pensamento psicanalítico. Um dos comentadores formula o seguinte chiste, que faz muito sentido: diz que está diante de um “caso clínico visto às cegas, mas não às surdas” (p. 113) – síntese criativa de como trabalhamos.
Esse é um exercício ousado e corajoso, que nos permite ver cada analista trabalhando e publicando seu modo de pensar. Os participantes receberam alguns textos norteadores de certos preceitos éticos, produzidos por autores que têm trabalhado essa questão mais de perto (como Gabbard e Tuckett). O curioso é que a psicanálise parece não se conformar a protocolos. Algo sempre escapa, revelando a inexorabilidade dos processos inconscientes, que atravessam os pacientes, protagonistas das histórias; os analistas, testemunhos vivos dessa experiência; e os comentadores, que se oferecem como outra escuta, em outra cena, fora do setting analítico – numa condição estrangeira, que pode inserir outras visões -, rumo a um exercício de imaginação, descolado da atividade clássica de supervisão, que faz parte do tripé presente nos modelos consagrados de formação.
A figura do comentador, testemunho a posteriori de uma situação clínica, é destacada durante as exposições. Encontra-se numa posição privilegiada, já que desconhece o paciente e o analista, mas também desafiadora, como se ousasse contar uma piada fora de sua paróquia. Mais um chiste, que revela a dificuldade e a importância de praticar o que Millôr Fernandes tão bem formulou: “Livre pensar é só pensar!”.
O exercício que o livro põe em ação nos faz refletir sobre a ética: da escuta, da atenção flutuante e da leitura de um texto, que pode ser revivido com outro olhar, dada a potência que nele habita. Cenas se multiplicando, se deslocando, produzindo novos efeitos, que chegam até nós, leitores, e nos permitem criar nossa própria cena, colocando-nos no lugar do analista, de sua escrita e, num outro momento, do próprio comentador.
Diante de certos estranhamentos ou perturbações que cada texto nos convida a visitar, somos agora, num outro tempo, num outro espaço, comentadores e analistas dessas cenas, as quais nos remetem aos desafios de cada paciente e de cada situação que encontramos pelo caminho.
O livro apresenta seis situações clínicas, densas e complexas, que reavivam a potência de cada encontro clínico. Mais do que isso: reforça o sentido ético e científico da escrita que pode brotar de cada encontro, ajudando-nos a pensar, acompanhados por colegas de grande tato e experiência clínica; a rever conceitos esquecidos ou pouco lidos; enfim, a manter-nos vivos e criativos em nosso cotidiano.
Seria tentador fazer um resumo de cada situação apresentada, mas essa tarefa não daria conta de traduzir a vitalidade do projeto. A opção é ilustrar o texto com alguns exemplos e temas de grande valia dentro de um debate clínico.
Um desses temas passa pelo setting. As seis situações ilustram diferentes formas de encontro analítico: análise de uma sessão semanal, análise de três ou quatro sessões, análises antigas, primeiras entrevistas, reanálises, impasses que não evoluíram para uma situação analítica propriamente dita. Um caleidoscópio que também se faz presente nos consultórios. Surge, num dos comentários, um raciocínio atribuído a Pontalis que merece ser destacado: a metapsicologia nos permitiria “estar no informe, sem nos perdermos no caos” (p. 156).
Nos relatos generosamente oferecidos, é possível perceber que o incômodo pode surgir do paciente que resiste, que se recusa a vir mais do que uma vez por semana, e solicita sessões emergenciais em momentos de grande angústia; ou do paciente que inicia uma segunda análise, bastante aderido ao esquema de alta frequência, sem ao menos se interrogar o sentido dessa adesão fiel ao processo analítico, mesmo quando há mudança de analista.
Outro grande tema, trazido pelos comentadores, diz respeito à transferência que ocorre em cada dupla. São feitas considerações importantes sobre as “transferências de risco”, as armadilhas transferenciais, os perigos do uso direto da contratransferência, comunicada ao paciente, e como seus efeitos podem ser monitorados e auscultados.
Nos comentários, delineia-se uma linha de raciocínio que interroga o circuito de angústia e seu endereçamento ao analista – um outro presente- ausente, cujo excesso de presença pode dificultar o trabalho de dissolução da transferência, favorecendo falsas conexões, que afastam o sujeito de seu caminho.
Algumas situações relatadas também se prestam a ilustrar como certas experiências vividas, que retornam dentro da conversa analítica, são depositadas e entregues ao analista, mas não representadas, sugerindo um trabalho paciente de construção de sentidos e estabelecimento de um ritmo próprio e propício à dupla.
Os relatos clínicos expressam ainda o idioma que vai se constituindo em cada dupla. Há exemplos bem significativos, como a brincadeira que o analista faz usando a expressão troca-troca, enfatizando as implicações sexuais das relações humanas, lá fora e aqui dentro, ou seja, o que se passava na dupla que podia abrir novos circuitos de associação. Em outro caso, o analista usa a construção seu tesouro, condensando a problemática da dúvida amorosa, vivida intensamente pelo paciente. A partir dessa linguagem que emerge, assistimos a um momento de criatividade da dupla, que ganha expressividade e torna viva a conversa analítica.
Mais um tema relevante: a temporalidade dentro de um processo analítico, que permite vislumbrar como a história impassada, traumática, pode se atualizar diante de um outro, que se coloca em posição ética de escuta e atenção flutuante.
Fica o convite para a leitura desses debates clínicos, marcados por um sentido ético exemplar, forjado no trabalho de cada analista que concordou em oferecer sua escrita, iluminando veredas importantes do campo psicanalítico.
Referências
Green, A. (1988). Sobre a loucura pessoal (A. Pavanelli, Trad.). Imago.
“Debates clínicos”: em busca de uma conversa sem sectarismo [Debates clínicos vol. 1]
˜Clinic debates˜: looking for a conversation without sectarism
Este livro apresenta uma coletânea de materiais clínicos de autores de diferentes orientações psicanalíticas, que foram comentados às cegas por outros psicanalistas de orientações diversas das dos apresentadores, na tentativa de desenvolver uma conversa de natureza científica entre as diversas correntes de trabalho, tentando quebrar o “enguetamento” e a construção de igrejas analíticas em que a própria ciência da psicanálise acaba prejudicada. Quem comentou não tinha informação da autoria do material clínico, no intuito de diminuir a prioris nos comentários, associados a filiações de grupos e de autoridades.
O livro inicia com uma apresentação de Sérgio Telles, que expõe a dificuldade de se publicar trabalhos clínicos da prática psicanalítica. Há o conflito entre a necessidade de manutenção de sigilo do paciente e a de desenvolvimento da ciência e prática psicanalíticas. As propostas de disfarce da identidade do paciente e de distorções do que aconteceu durante os atendimentos podem comprometer a consistência e relevância do que é narrado, segundo ele, e, ao mesmo tempo, se revelar inúteis. Por outro lado, há o conflito com a manutenção do caráter confidencial do que os analisandos expõem de suas vidas. Como resolver esse paradoxo?
A importância de se contrapor as diferentes formas de abordagem psicanalítica torna essencial que as experiências clínicas dos analistas praticantes sejam publicadas, sobretudo dos mais experientes. Em geral, isso contrasta com o que costuma ocorrer, que é a exposição dos mais iniciantes, enquanto os que ocupam situações de maior status nas instituições psicanalíticas se esquivam, muitas vezes por questões políticas ou de manutenção de idealizações?- para que a atividade não se torne algo hermético e sem um real exame daquilo que se pratica de fato, enfraquecendo de forma substantiva o que seria uma atividade de caráter científico e não esotérico.
O primeiro caso, “O boneco assassino”, é de Telles, que discorre sobre o atendimento de uma paciente em forte crise emocional após encontrar correspondência do marido, em que estaria implicada a infidelidade dele. A despeito de os cônjuges exercerem a mesma atividade profissional e de ela ter um veemente discurso de emancipação feminista, na prática, segundo o analista, o marido é o real provedor da casa, enquanto ela permanece ganhando muito aquém dele. Um sonho, que dá título ao caso, completa a descrição. A exposição de Telles privilegia os históricos de vida, a condição social e a frequência do atendimento da paciente?- uma vez por semana. Diante da situação de crise que a descoberta desencadeia, o analista propõe sessões extras para conter as angústias avolumadas da paciente. Supõe que o falicismo da paciente ocultaria fortes impulsos orais, que confirmaria um velho axioma teórico, que não deve ser desprezado.
Carlos G. Bigliani, como Telles, privilegia o conteúdo da fala da paciente nas interpretações que são sugeridas. Supõe um pacto de denegação entre terapeuta e paciente, que teria se instalado durante o mês que precedeu a “descoberta de traição”, e que uma interpretação sistemática “kleiniana” da transferência teria encurtado o tempo para se chegar a essa negação.
Com Elizabeth e Elias Rocha Barros, o enfoque muda do conteúdo para o problema de desenvolvimento psíquico da paciente. Destacam a situação mental infantil dela, que acaba colocando o analista como autoridade. Ele não questiona essa condição e, dessa forma, evita o seu crescimento real. Consideram ser de grande relevância a alta frequência dos atendimentos, visto que uma frequência reduzida impediria o analista de dar interpretações mais contundentes e consistentes por medo e que desencadeariam nos analisandos, tornando o trabalho pouco promissor no que diz respeito ao real desenvolvimento mental deles.
O caso 2, “R.”, é de autoria de Mario Eduardo da Costa Pereira, comentado posteriormente por Alcimar de Souza Lima e Marion Minerbo. Mario Eduardo C. Pereira narra sua experiência com um homem que chega para análise queixando-se de estar muito deprimido, prejudicado para exercer adequadamente suas funções de trabalho, temendo perder o emprego que conseguiu, um alto posto numa empresa, depois de ter vivido uma infância penosa com um pai alcoólatra e violento, que acabou morrendo indigente após a esposa ter se separado dele e resolvido criar os dois filhos sozinha, sendo ele o mais novo. Segundo o relato, o paciente se via preterido pela mãe em favor do irmão mais velho, que teria todas as regalias que essa poderia prover para seu desenvolvimento, enquanto que ele mesmo era percebido como um traste que não ia dar em nada e cuja educação recebida foi de escola pública, contrastando com a escola privada do irmão mimado e incensado pela mãe. A despeito dessa discrepância de tratamento, aos 19 anos o paciente casou-se com uma mulher mais velha e teve com ela uma filha. Graduou-se numa faculdade e teve uma carreira de ascensão meteórica, levando-o a um padrão de vida jamais pensado anteriormente?- e que temia perder caso sua situação mental perseverasse. Havia quinze anos que não via mais a mãe ou o irmão, e também fizera votos de jamais revê-los nem o maldito bairro pobre de onde saíra.
São contadas diversas etapas do atendimento, desde a primeira consulta até o momento em que o analista, considerando ter sido superada uma etapa do atendimento, propõe que o paciente passe a se deitar no divã. Essa mudança teria aumentado a possibilidade do analisando aprofundar suas memórias infantis e as vivências de ressentimento em relação à mãe e ao irmão. A esposa começar a trabalhar fora do lar seria o fator desencadeador de seu quadro, a despeito de posteriormente ser informado que ela já se queixava da depressão dele dez anos antes. É destacada uma sessão em que o analista chamou de turning point do atendimento.
Os comentários de Alcimar S. Lima enfocam a linguagem do paciente e do analista, chamando a atenção para a narrativa em que o paciente inicialmente é descrito apenas como R. e seu irmão tem um nome e um lugar de existência, Roberto. No decorrer do atendimento R., sem aviso, passa a ser Rui: é nomeado, portanto, segundo ele, passa a ter um lugar, uma existência, um nome. O enfoque tanto da narrativa da análise quanto dos comentários está no conteúdo do que diz o paciente, tomando como factuais as situações descritas por ele. Dos erres de R., Roberto e Rui são destacados, e também tanto pelo analista quanto pelo comentador, a presença da letra e nas falas de fracassado, ferrando, tramoia, tragédia, maltrato, maltratado… De acordo com o comentador, os sons trrr, rr exprimem rudeza, aspereza e agressividade. Pressupõe que o futuro dessa análise terá muita relação com o sadismo, o que levaria o paciente a temer o prosseguimento da análise, que tenderia a “ser intensa, pois tudo nela aponta para transbordamentos, essa mãe ttrrrágica, o pai distante muito agressivo e inadequado no contato com os familiares, o bairro simples em que viveu…” (p. 74).
Os comentários de Marion Minerbo consideram o material por duas formas. A primeira é a de que “o analisando enfrenta resistências, mas sustentado pela transferência, é capaz de rememorar cenas de sua história… Elementos inconscientes tornam-se, aos poucos, conscientes”. O trabalho realizado, segundo Minerbo, estaria calcado na primeira tópica de Freud. A segunda forma propõe o sentido da palavra “cuidar” como sendo “o de atender as necessidades básicas do Eu?- aquelas que precisam ser atendidas para que o Eu possa se constituir”. Baseia-se na ideia de Roussillon de “dificuldades de constituição do Eu que se manifestam como sofrimento narcísico-identitário”. O paciente vai para análise para ser ajudado a que o seu Eu-sujeito nasça. Considera que a relação dele com a esposa seria a representação possível de um trauma precoce irrecuperável. Questiona a postura do analista em relação ao paciente de que ele renuncie ao desejo edipiano, visto que ele não estaria em condições de atendê-la.
O terceiro caso, “Antônio”, é narrado por David Levisky. É um adolescente de 15 anos que se diz homossexual. Os pais se apresentam muito formais e aparentemente aceitam a situação do filho sem questionamentos, mas o analista os sente como falsos-selves. Durante os encontros que Levisky teve com Antônio, o percebeu como um rapaz muito inteligente, de modos femininos mas não afeminados, inicialmente de cabelos longos, depois cortados. Ocorre uma sucessão de entrevistas com o rapaz sem que se chegue a um contrato de trabalho propriamente. Muitas questões relacionadas à sexualidade dele são colocadas, assim como dúvidas quanto à sua real orientação sexual. O analista acaba pressionando para que se formalize um contrato de dois atendimentos semanais e encontra uma forte reticência por parte do rapaz e também de seu pai, que encerra o atendimento sem que o contrato seja feito e sem permitir que o adolescente possa vir se despedir do analista. Também interdita qualquer possibilidade de futuros contatos do analista com o filho.
Christian Dunker destaca uma dissintonia entre o que se apresenta ao analista e a atitude prática tomada por ele durante os atendimentos. O analista tentaria enquadrar os pais e o analisando para que agissem de uma forma que viabilizasse o atendimento analítico sem levar em conta as condições intrapsíquicas dos participantes, repetindo contratransferencialmente o drama de que foi chamado a pensar a respeito. Questões de ordem prática, como número de sessões e a tentativa de responsabilizar o adolescente para o pagamento do trabalho e o cuidado para preservá-lo, teriam desconsiderado as questões emocionais da família, que impossibilitariam que isso pudesse ocorrer no início do tratamento.
Flávio Ferraz considera que a importância dada ao enquadre seria uma necessidade de enquadrar a família do possível analisando e dele próprio àquilo que deseja o analista: a análise parecia ser algo que atenderia a um desejo explícito do analista, não assumido nem reconhecido pela família e pelo rapaz. O analista liga para a família após a primeira entrevista e não consegue esperar a iniciativa dela, da mesma forma que insiste com o analisando e com seus pais de que a análise seria a prioridade deles e na frequência que seria necessária, numa asserção que vem de fora para dentro e não por reconhecimento real da necessidade dos interessados. Essa linha de ação psicanalítica parece ter sufocado precocemente a análise incipiente que se esboçava.
Nos seus comentários, Flávio dá uma “alfinetada” no que considera ser uma submissão a uma abordagem “bioniana” do analista, que teria comprometido o atendimento. Esse foi o único ponto em todo o livro em que uma observação pareceu-me comprometida por um viés “partidário”. Nos demais comentários, a despeito de diferenças de vértices, não me pareceu haver, de forma evidente, algo dessa natureza.
O caso 4 é “Luciano”. Luiz Carlos Junqueira apresenta o atendimento de um cliente que o procurou após a perda do seu analista anterior, que havia mudado de cidade. Dizia necessitar de análise e se dispôs a vir a todos os horários em um atendimento de “alta frequência”. Da aparente platitude inicial do analisando observada na experiência de análise, o analista passa a verificar a sinceridade, o empenho e o interesse real do analisando pela análise. Extratos de duas sessões são expostos. Junqueira destaca que, para ele, a análise é um trabalho de formiga, de garimpagem psicanalítica e braçal de separar o joio lógico e psico-lógico do trigo meta-psico-lógico.
Os comentários de Luis Claudio Figueiredo também propõem a “escuta” do texto, tal como se escutaria uma sessão analítica. A apreensão do material clínico privilegiada pelo analista destaca material não associativo, mas sobremaneira o que seria o estilo do analisando nos seus modos de se apresentar às sessões e de se colocar na vida na qual a “figura” vai se formando a partir de pinceladas que introduzem cores, matizes e nuances, como num quadro de Monet. Destaca que o analisando necessita da análise como um insuficiente renal precisaria de diálise e que o analista precisaria colocar vida no analisando da mesma maneira que a filtragem do sangue no procedimento médico. O analisando se beneficia, porém corre o risco, caso o analista não perceba, de ficar eternamente dependendo dessa diálise se o trabalho não evoluir para um crescimento do paciente que o leve a emancipar-se e contar consigo mesmo.
Nos seus comentários, Silvia Alonso menciona a importância do livro para abordar o estabelecimento de “escolas psicanalíticas” que se transformam em guetos que acabam fragmentando e enfraquecendo a psicanálise. Ela chama a atenção para os esforços do analisando não se ver separado do analista e as consequências danosas que a manutenção desse funcionamento poderia ter no psiquismo dele. A tentativa de identificação com o analista implicaria em algo transferencial não elaborado com a figura paterna. No final de seus comentários menciona que o setting a ser estabelecido exige conhecimento metapsicológico. Na última frase de seu comentário, porém, levanta uma séria questão: “o que entendemos por metapsicologia?”
O caso 5 é “O homem que ia ao bairro escuro”. Rodolfo Moguillansky faz o extenso relato da análise de um europeu, Pierre, que o procura ao ser transferido para outro país a trabalho, considerando a possibilidade de desestruturar-se com a mudança, seguindo sugestão de seu analista no país de origem. O relato lembra certos filmes franceses, como Belle de Jour, em que um grande conflito é vivido na intimidade do paciente, entre o que seria o seu lado claro e seu lado escuro?- entre um sujeito de posições conservadoras e empresário, e outro mergulhado em atividades masturbatórias com prostitutas e vários tipos de fetiches e drogas, e entre trabalhar de forma lícita na empresa ou de sucumbir à corrupção a que era cooptado. Não há sessões relatadas, apenas as interpretações dadas pelo analista aos extensos relatos de ações e sonhos do analisando, em que o analista ressalta o conflito entre um lado ético-moral do paciente, que vive como tedioso, e outro “depravado” (esse termo é meu, para resumir o contexto) que experimenta como excitante.
Os comentários de Bernardo Tânis destacam a contribuições de MacDougall e Roussilon. Tânis propõe uma leitura complementar à do analista, em que o analisando não teve em sua infância e adolescência a “possibilidade de elaboração simbólica e de lutos em relação à constelação edípica. Cenas armadas por Pierre parecem estar no lugar de obturar um vazio subjetivo criado pela clivagem de uma parte significativa do eu. […] a cena constuída por Pierre seria como um delírio, uma tentativa de cura enxertada”.
Isabel de Viluttis comenta que o bairro escuro evidenciaria algo da ordem do traumático, da compulsão à repetição e da pulsão de morte que associa à vivência do paciente no quarto de seu pai alcoólatra, que dividia com seus irmãos homens (enquanto as irmãs dormiam com a mãe em outro aposento). Refere-se a conteúdos incestuosos relacionados ao pai que comprometem a instalação do Ideal de Eu e que tornam seu Supereu sádico e violento. Considera que é uma situação difícil para a clínica se o trabalho analítico não for orientado por uma procura desejante orientada pelo Ideal do Eu, mas por um mandato sádico superegóico.
O caso 6, “O guardião dos enigmas”, é apresentado por Paulo de Carvalho Ribeiro. O analista expõe o caso de um paciente que o procura por ter a convicção de que a namorada o traiu com um amigo. Teria instalado um programa espião no celular dela, e registrado o momento em que tiveram relações sexuais numa gravação sonora, sem imagens. Ele ouvia obsessivamente a gravação infinitas vezes, tentando convencer-se da realidade da infidelidade. O foco nessa história foi a essência de quase todas as sessões. O analista considera que a tal gravação era uma espécie de “tesouro”, que o paciente guardava e tentava impedir que se perdesse, salvando-o em inúmeras mídias diferentes. O paciente insistia para que o analista corroborasse sua teoria e insinuava-lhe o interesse de que ouvisse a gravação. Com o evoluir do tratamento e o convite para que o paciente usasse o divã, apareceram associações em que havia muito rancor e ressentimento em relação aos pais do paciente.
O analista considera que provavelmente fracassou no atendimento. Após as férias que ambos tiraram, o paciente voltou para três sessões, já avisando desde a primeira que estava interrompendo a análise e havia interrompido o namoro, pois ia mudar-se de cidade. Depois de ter-se ido, enviou para o analista um arquivo que conteria a tal gravação, para que ele a guardasse “em sua nuvem”. O analista nunca o abriu, porém tampouco conseguiu apagá-lo, permanecendo como um guardião do enigma do paciente e, de certa forma, “tomado” por ele.
Miguel Du Pin e Almeida comenta que aprecia muito o trabalho de Ribeiro e propõe o analista como um guardião da “caixa de Pandora”, que não abre. Sugere uma aproximação de casos-limite como este por meio de abordagem literária da afecção psicótica, que autorizaria um pouco mais de distância e de achatamento. Propõe que a “nuvem” do analista seria capaz de conter as hesitações e incertezas do paciente, sem que o analista enlouqueça, tornando-o “o fiel depositário do que não coube no paciente”.
Lucia Fuks comenta que o aspecto cultural da sociedade burguesa, em que aparentar é mais importante do que ser, está presente na forma como o paciente fica obcecado com o que os outros pensam dele. Considera, por outro lado, que, ao não exigir que o analista ouvisse a gravação, ele inconscientemente queria ser decodificado e que, com o seu relato sendo ouvido milhares de vezes, conseguisse se assegurar de que contava com a escuta do outro, mais do que a reafirmação esperada de sua crença. Para ela, cabe a indagação de qual era a situação psíquica do paciente: “recalque do sentimento de culpa? Autorização ligada à presença de uma dupla moral burguesa?”